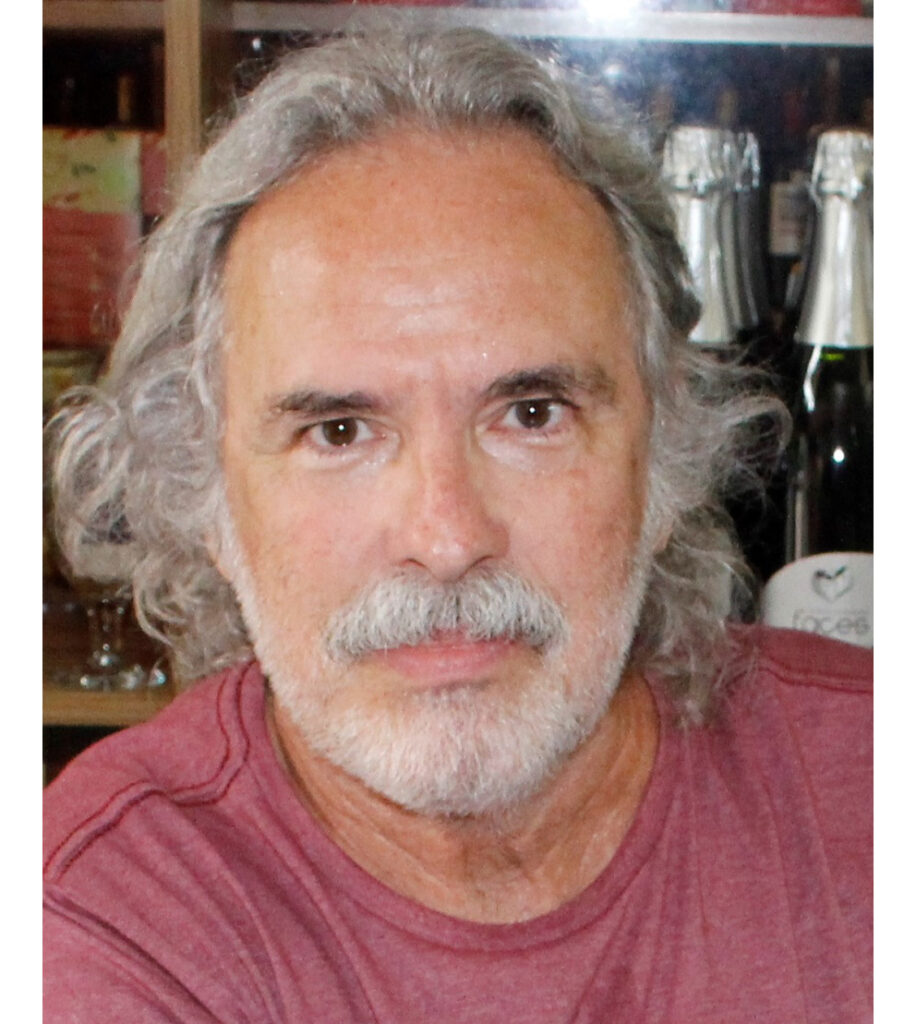Há alguns anos eu li um romance que contava a história de um povoado em que as pessoas começam a perder a memória. A solução sugerida por um morador foi escrever o nome das coisas em papeizinhos e sair rotulando tudo, rapidamente, antes que chegasse o esquecimento geral. Com um pincel marcavam cada coisa com seu nome de costume: mesa, cadeira, relógio, porta, panela, vaca… Na entrada do vilarejo cuidaram de colocar um cartaz com o nome como se chamava aquele lugar. Outra providência foi afixar na rua principal um cartaz ainda maior que dizia “Deus Existe”.
Com o avanço da epidemia, aquela gente percebeu que não bastavam os nomes, era preciso também escrever a utilidade de cada coisa. Por exemplo: “Vaca – deve ser ordenhada todas as manhãs para que produza leite”. E assim, iam protelando os efeitos da caduquice que, por fim, varreria da memória o significado de cada palavra em separado, e depois, de cada letra.
Houve um tempo em que eu me julgava dono de uma memória razoável. Lembrava, por exemplo, o dia em que meu pai chegou do trabalho e faltava luz. Eu o vi beijando minha mãe numa imagem azulada pelas panelas no fogo do fogão a gás. Era em São Paulo e eu tinha 2 anos de idade.
Se tivesse tomado nota como naquele livro que li, eu teria mais o que contar agora. Por isso me apresso hoje em escrever o nome da minha primeira professora: Dona Isaura Cação Ribeiro. Pois foi só escrever e me bateu uma dúvida quanto a esse Cação encravado no meio. Durante anos eu soletrei seu nome como um verso ou uma tabuada, e agora tenho dúvida! De certo, me lembro que dona Isaura tinha um casal de filhos com um tapeceiro da Rua 17.
Minha cidade era tão recente que muitas coisas careciam de nome. As ruas, por exemplo, ainda eram apenas números. As pares cruzando com as ímpares, enquanto por elas circulavam (vivos) os seus futuros patronos. Algumas de nossas esquinas de hoje aconteceram muitos anos antes, em carne e osso, cada vez que esses pioneiros se encontraram.
Dona Isaura me levou pela mão a cruzar a cartilha Caminho Suave, a lição da barriga, do jarro, do macaco até a zabumba. Cheguei à escola com alguns meses de atraso. Meu pai tentou me matricular em janeiro, quando fiz seis anos, mas lhe disseram que ali era lugar de criança estudar e não ser pajeada. Meu pai se rendeu ao argumento da direção, mas eu não. Era um caso de lombriga supurado – na Rua Elizabete todo mundo ia à escola.
Já era maio, mês de Maria, quando o Zé Brito me disse: “Amanhã eu te coloco no grupo”. Não lhe faltava autoridade. Com dez anos, o Zé Brito já tinha repetido o primeiro ano duas vezes! “Entra aí nessa fila”, ele me disse já se misturando com os meninos da sua classe. Fui ficando por ali naquela fila de dois que, de repente, subiu um degrau, passou pelos banheiros fedendo a urina e foi vazando os corredores do grupão. Subimos outro lance de degraus e dobramos à esquerda, um andar acima do primeiro degrau por onde tínhamos entrado. Na porta da penúltima sala, Dona Isaura, implacável como um porteiro de cinema, tirou-me da fila: “Você não está”, disse. “Vamos pra diretoria”.
Eu ainda não sabia diferenciar um A de um 3, mas já sabia o que era a diretoria do grupão – a rua inteira sabia. Era o lugar da escola onde a gente apanhava como em casa. Naquele dia dona Neusa Nasrala estava substituindo o diretor Júlio de Moura, um hominho pouco maior do que um anão que morava no Micena, quase nosso vizinho – o tal que tinha me negado a matrícula.
– O que você está fazendo aqui?
– Eu quero estudar.
Era uma meia verdade e, para minha surpresa, Dona Neusa não me bateu naquele dia.
– Quem é o seu pai?
– É o Bernardino da farmácia.
Ela o conhecia. Naquele tempo, todo mundo se conhecia na minha cidade. Às vezes, muito mais do que devia.
- Luiz Carlos Seixas (Instrumentista, compositor e cronista)